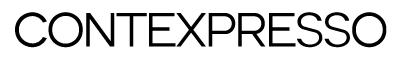É consenso entre os críticos literários de que O Castelo de Otranto, de Horace Walpole, desde a primeira publicação, em 1764, ainda sob um pseudônimo, continha todos os elementos para dar forma àquilo que corresponde a definição de “maquinaria gótica” (Botting, 2008; Colluci; França, 2020; Punter, 1996). Resenhar a obra focado naquilo que ela deixa de herança em termos de “utensílios literários” (maquinaria gótica)1, ou resumi-la com algumas poucas considerações, ou mesmo ressaltar a importância desses mesmos “utensílios literários”, além de ser um exercício pouco original, também é um desperdício da verdadeira oportunidade de resgatar a prática da leitura literária; assim, em vez de simplesmente resenha-la ou resumi-la, vale apontar, de maneira ilustrativa e não-exaustiva, os pontos onde tais elementos aparecem, não apenas para facilitar a identificação e o entendimento da origem dessa maquinaria gótica, como também para compreender como a fórmula em obras posteriores foi concretizada, fazendo com que dois terços de todas as obras publicadas na década de 1790 tivesse o gótico como gênero (Tichelaar, 2012).
Para isso, olhemos para O Castelo de Otranto sob três propostas de perspectivas, a fim de ver a maneira pela qual a obra faz insurgir esses elementos, sendo cada perspectiva ancorada nos seguintes recortes: 1) a leitura a partir do “Prefácio Para a Primeira Edição”, sem a existência do “Prefácio Para a Segunda Edição” (tal qual ocorreu na primeira publicação); 2) a leitura a partir do Capítulo 1 (como tem se tornado comum entre os leitores que fogem dos spoilers dos prefácios com espécie de fervor religioso); e 3) a leitura a partir dos Prefácios da primeira e da segunda edição. Delimitemos, portanto, o mais concisamente possível, quais premissas se alteram face a cada perspectiva, e como elas afetam a insurgência desses elementos.
Sob a primeira perspectiva, em essência, o autor põe o leitor na condição de sujeito que tem diante de si relatos que, ainda que se apresentem em forma de narração (em termos de estrutura), são baseados, em algum grau, em “fatos” (seja do ponto de vista de caráter histórico, enquanto documento escrito e encontrado em momentos distintos, seja do ponto de vista autoral, enquanto documento que pertence a outro autor não-identificado), subvertendo, assim, parte do pacto ficcional implícito entre leitor e obra, uma vez que o autor que publica a presente obra não se materializa como construtor do mundo ficcional, mas como descobridor, tradutor e especulador acerca do “verdadeiro” autor:
“A presente obra foi descoberta na biblioteca de uma antiga família católica, no norte da Inglaterra. Foi impressa em Nápoles, em letras góticas, no ano de 1529. […] Não há nenhuma outra circunstância na obra que possa levar-nos a descobrir o período em que se passam as cenas. Os nomes das personagens são evidentemente fictícios e, provavelmente, foram disfarçados intencionalmente. […] Não é improvável que um padre habilidoso tenha se esforçado por voltar as suas próprias armas contra os renovadores; e pudesse ter se servido de seus talentos para reafirmar no populacho suas antigas crendices e superstições. […] Tal interpretação dos motivos do autor não passa entretanto de mera conjectura. […] A crença em todas as espécies de prodígios era tão enraizada naquela idade de trevas, que um autor não seria fiel aos costumes da época se omitisse toda menção a eles. […]” (Walpole, 1996).
Ainda sobre a primeira perspectiva, temos o leitor na condição de sujeito que ainda tem certo domínio de sua atuação nesse pacto ficcional ou não com a obra. Quanto à segunda perspectiva, o leitor goza de liberdade praticamente selvagem face à história, pois, não sabendo de nada, mergulha na narração e dela permite extrair o imaginável – e o inimaginável, também – dessas fronteiras ficcionais.
Por fim, quanto à terceira perspectiva, as revelações do autor, tanto da própria autoria, quanto de suas intenções, põem o leitor em posição privilegiada para confrontar objetivamente, ou da maneira que bem entender, suas verdadeiras intenções como autor (autor esse inicialmente inseguro – ou tímido, por que não? –, e depois aliviado pela recepção positiva):
“O modo favorável com que esta pequena obra foi recebida pelo público exige que o autor dê algumas explicações sobre sua composição. […] (…) é conveniente que peça desculpas a seus leitores por lhes ter apresentado sua obra sob a figura emprestada de um tradutor. Como a insegurança quanto a seus próprios talentos e originalidade de sua tentativa foram as únicas razões para que assumisse tal disfarce… […] Entregou sua empreitada ao julgamento imparcial do público, determinado a deixá-la perecer na obscuridade, caso reprovada; não pensava revelar tal segredo, até que juízes mais habilitados lhe garantissem que podia assumir sua autoria sem corar.
Foi uma tentativa de mesclar duas formas de romances, a antiga e a moderna. […]
O autor das próximas páginas acreditou ser possível reconciliar as duas formas. Desejoso de deixar os poderes da fantasia livres para expandirem-se por meio dos espaços ilimitados da invenção, criando, desse modo, situações mais interessantes, ele desejava conduzir os mortais agentes de seu drama de acordo com as leis da probabilidade. Em suma, fazê-los pensar, falar e agir, tal como se suporia que meros homens e mulheres normais fariam em situações extraordinárias” (Walpole, 1996).
A partir do recorte da primeira perspectiva, é possível notar, por meio de trechos do Prefácio, algumas das características que estabelecem alguns dos elementos da maquinaria gótica, como, principalmente, o tempo passado e o sobrenatural como reafirmação do medo em oposição às propostas fomentadas pelos ideais racionalistas (ou seja, a resistência das crendices que, de maneira invariável e em qualquer tempo, despertam e advém de tais medos, simultaneamente).
De maneira semelhante, também é possível notar quase todos os elementos dessa maquinaria gótica desde os primeiros parágrafos do Capítulo I, como o espaço (não apenas para delimitação física – o castelo medieval, principalmente –, como também psicológica – a preferência paterna, manifesta e natural da época, pelo filho, mas não pela filha, e a existência de uma profecia de expectativa amarga), o personagem vilanesco (que se torna visível por meio de todas as atitudes imediatistas para vencer uma corrida que, inicialmente, existe apenas, talvez, no íntimo de um dos personagens, fazendo-o agir dessa maneira celerada, vilanesca), e, novamente, o medo (que se apodera de diversos personagens nos mais diversos e possíveis momentos, e que se alastra, com grandeza, logo em um objeto que leva o filho de Manfredo, um dos personagens principais, à morte).2
“Manfredo, príncipe de Otranto, tinha um filho e uma filha. Esta, uma linda donzela de dezoito anos, chamava-se Matilda. O filho, Conrado, era quase três anos mais novo, um rapaz caseiro, doentio, de disposição nada promissora. Ainda assim era o preferido de seu pai, que jamais mostrara quaisquer sinais de afeto por Matilda.
Manfredo havia conseguido contratar um casamento para seu filho (…) este [Manfredo] se apressou em celebrar as bodas, tão logo o precário estado de saúde de Conrado o permitisse.
[…]
Já os vassalos e súditos (…) atribuíam o casamento apressado ao terror do príncipe em ver cumprida uma antiga profecia, que proclamava que o castelo e o senhorio de Otranto passariam da presente família, quando quer que o seu verdadeiro proprietário crescesse demais para habitá-lo.
[…]
A corte estava reunida na capela do castelo, com tudo pronto para o início do ofício divino, quando se notou que o próprio Conrado estava faltando. Manfredo, impaciente com qualquer atraso e não tendo visto seu filho retirar-se, despachou um dos criados…
[…]
O primeiro fato que atraiu a atenção de Manfredo foi um grupo de criados que se esforçavam por erguer do chão alguma coisa que lhe pareceu ser uma montanha de plumas negras. Ele fitava sem acreditar no que via.
[…]
(…) Mas que espetáculo para os olhos de um pai! Encontrou seu filho feito em pedaços e quase enterrado sob um gigantesco elmo, uma centena de vezes maior do que qualquer capacete jamais feito para um ser humano e enegrecido por uma quantidade apreciável de plumas pretas. […]” (Walpole, 1996.).
Ancorado nessa primeira proposta de perspectiva, é possível destacar os elementos da maquinaria gótica desde o primeiro capítulo, ao mesmo tempo que se mantem neste, o extrato bruto dos elementos que são refinados no desenrolar da história.
Com efeito – e aqui passamos para a segunda proposta de perspectiva, a qual permite extrair desses breves e iniciais trechos o imaginável e o inimaginável –, o primeiro capítulo e os primeiros parágrafos trazem inúmeras informações que vão perdurar pelo restante da narrativa. É possível inferir, por exemplo, a importância dos personagens pela sequência que abre a narrativa: Manfredo é o primeiro a ser citado e nomeado, e Matilda, a segunda, ainda que o filho preferido seja Conrado; é possível inferir que a precária constituição de Conrado fosse motivo de temor pelo pai (de fato é motivo de temor pelo pai); e que a profecia, logo em curso de concretização, possivelmente é entregue nas primeiras páginas (vide a relação entre “quando quer que o seu verdadeiro proprietário crescesse demais para habitá-lo” e “um gigantesco elmo, uma centena de vezes maior do que qualquer capacete jamais feito para um ser humano e enegrecido por uma quantidade apreciável de plumas pretas.”). A propósito: dada a condição física de Conrado, seria necessário um elmo tão grande para matá-lo?
O exagero é proposital, e está presente em toda a obra: do tamanho das coisas (elmo, pés, espadas) aos desmaios, dos números (quantas pessoas, entre batedores, arautos, pajens, trombeteiros, soldados e criados seguem a entrada do desconhecido cavaleiro?) às reticências (as que hesitam, as que prolongam, as que antecedem e adiam os desmaios, ah…), das reviravoltas às aparições misteriosas (e por vezes gigante, gigantescas). Em outras palavras, exageros que, combinados, viabilizam a produção e antecipação do medo e que potencializam as manifestações do medo e do mistério.
Dois trechos exemplificativos:
“[…] Também corri e perguntei ‘é o fantasma?’ ‘O fantasma! Não, não’, disse Diego (…) ‘é um gigante, acho; está todo de armadura, pois vi o seu pé e parte da perna e eles são tão grandes quanto o elmo lá no pátio’. Quando ele proferiu essas palavras, meu senhor, ouvimos um violento chacoalhar da armadura, como se o gigante estivesse se levantando; pois Diego depois contou-me que ele acha que o gigante estava deitado, pois o pé e a perna estavam estirados no chão. […]” (Walpole, 1996).
“— Generoso guerreiro, nós dois estávamos errados… Eu o tomei por um instrumento do tirano e percebo que você cometeu o mesmo engano… É tarde demais para desculpas…Vou desmaiar… Se Isabela está próxima, chame-a… Tenho importantes segredos para…” (Walpole, 1996).
O medo e o mistério, no entanto, não se amparam somente nos exageros; articula-se a eles, na obra, o lugar. Os lugares e seus espaços servem, efetivamente, como fundação para a materialidade dos exageros – afinal, é necessário espaço para que coisas grandes possam ocupá-lo; e é necessário lugares escuros para que o espaço seja preenchido pelo medo.
Tomamos conhecimento, desde o instante em que se menciona a profecia, de que os personagens se encontram em um castelo, e é à noite que a maioria dos acontecimentos se desenrolam. Também é, durante a noite e no escuro, que em lugares algumas vezes artificiais (o subterrâneo do castelo, a cripta), e outras naturais (o labirinto de cavernas indicado para Teodoro), que a vilania evolui (as opiniões e o pedido de Manfredo para Isabela, no início, por exemplo), que o silêncio distorce sons, e onde o incerto e as reviravoltas por vezes acontecem.
“Já era noite; o criado que acompanhou Isabela levava um archote a sua frente. Quando se aproximaram de Manfredo, que andava impacientemente de um lado para outro da galeria, este estancou e disse asperamente; — Leve embora essa luz e saia.
(…) Ela obedeceu, tremendo. […]
[…]
— (…) Em resumo, Isabela, como não posso dar-lhe meu filho, ofereço-me a mim mesmo” (Walpole, 1996).
“Naquele instante o retrato do avô de Manfredo, pendurado sobre o banco no qual há pouco os dois haviam se sentado, deu um profundo suspiro e moveu o peito. Isabela, que estava de costas para o quadro, não viu movimento algum, nem percebeu de onde o som partira, mas estancou e disse:
— Ei! Que som foi esse, meu senhor? — e no mesmo instante correu para a porta” (Walpole, 1996).
“A parte subterrânea do castelo era escavada numa série de vários claustros interligados e não era fácil para alguém em tal estado de ansiedade encontrar a porta que abria para a caverna. Um silêncio assustador reinava nessas regiões subterrâneas, exceto quando, vez por outra, algumas rajadas de vento sacudiam as portas pelas quais ela havia passado e os gongos de ferro ecoavam através daquele longo labirinto de trevas” (Walpole, 1996).
Faz-se necessário destacar, nesse momento, que os trechos citados até aqui não abarcam todos os personagens e acontecimentos que, unidos ou formulados a partir da maquinaria gótica, compreendem a total exploração da vilania, do espaço, do tempo e do medo; a vilania, por exemplo, está presente e atravessa mais de um personagem; o tempo e o lugar (físico e temporal), são esticados e retraídos de acordo com o que se pretende mostrar; e o medo é o estado pelo qual os personagens passam a ser influenciados.3 Ter consciência desses pontos – e que, não coincidentemente se manifestam, em geral, a partir de uma leitura livre – permite acioná-los para repensar a obra sob as três perspectivas ora propostas, de dezenas de maneiras diferentes, talvez centenas.
Passemos, portanto, para a terceira e última proposta de perspectiva: as revelações do autor em defesa de sua insegurança inicial ao prefaciar a primeira edição, as intenções de se criar algo a partir da mescla de duas formas de romances, e os meios de concreção para o resultado de sua obra – a maquinaria gótica dentro e a partir da mimese. Afinal, é a partir da imitação,4 como a representação do real, que o autor tenciona a conduzir e pôr seus atores em uma peça ou palco (quando o autor introduz a expressão “mortais agentes de seu drama” deixa-se de tratar, por conseguinte, de meros personagens que existirão apenas em páginas), ao mesmo tempo fazendo-os agir (ou, a priori, agindo assim porque eram, desde o início, seres humanos, de carne e osso, como implícito no Prefácio para a Primeira Publicação) “de acordo com as leis da probabilidade”, e valorizando o “pensar, falar e agir, tal como se suporia que meros homens e mulheres normais fariam em situações extraordinárias”.
Também sob essa perspectiva a obra alavanca – e ganha – ainda maior dimensão, pois é nessa conjectura teatral da imitação que alguns dos elementos da maquinaria gótica, aliados aos recursos existentes somente em um palco (da voz, das atuações face aos exageros e das reticências, por exemplo), transcendem o silêncio e a solidão da leitura, tudo isso para e pela perfeita completude da tragédia aristotélica.5
É a partir da terceira perspectiva que entendemos melhor como os personagens secundários (os criados, por exemplo), por vezes incertos, por vezes assustados, também provocam incertezas e medo nos demais. São os personagens secundários que, por vezes, incentivam outros breves raciocínios, mudam o ritmo dos diálogos, e, até mesmo, oferecem alívios cômicos pela inocência quase malévola (como a joia dada de presente em troca de um segredo), ou pelo absurdismo de certas situações (característica existente em praticamente todos, não somente os criados).
Podemos vislumbrar que é na condição de peça (e assim, também, ver toda a obra não somente como um híbrido de romance-romanesco, mas de romance-roteiro) que os elementos da maquinaria gótica coadunam para o desfecho máximo de todas as emoções (e da história), entre atores e plateia, ou, ao menos, para a experiência máxima de algumas dessas emoções. Por exemplo, a consequência absoluta, incorrigível e incontornável das ações de Manfredo que, elas próprias alheias ao seu pleno conhecimento, guiam-no cegamente até o fim; ou, ainda, também no desfecho, na melancolia final que passa a acompanhar Teodoro – afinal, Teodoro não apenas não possui o objeto de seu afeto desde o início, como também, no fim, o objeto que crê possuir por meio de uma terceira pessoa, continua perdido.
Sob as três perspectivas propostas nesta resenha, torna-se possível revisitar a obra e detectar nela os diversos elementos da fundação da maquinaria gótica operando em vários níveis de leitura e apresentação. Por todas essas razões, O Castelo de Otranto não apenas demonstra seu papel como “o founding father da literatura gótica inglesa” (Colucci; França, 2020), como também permanece vivo e convidativo para as nuances góticas que dela emergem.
Referências bibliográficas
ARISTÓTELES. Poética. Tradução, textos adicionais e notas de Edson Bini. São Paulo: EDIPRO, 2011.
BOTTING, Fred. Gothic. Londres: Routledge, 1996.
COLUCCI, Luciana; FRANÇA, Júlio (org.). Matizes do gótico: três séculos de Horace Walpole. 1ª edição. Rio de Janeiro: Dialogarts / São Paulo: Editora Sebo Clepsidra, 2020.
PUNTER, David. The literature of terror: a history of gothic fiction from 1765 to the present day. New York: Routledge, 2013.
TICHELAAR, Tyler R. The Gothic Wanderer: From Transgression to Redemption; Gothic Literature from 1794 – present. Michigan-US: Modern History Press, 2012.
WALPOLE, Horace. O castelo de Otranto. Tradução de Alberto Alexandre Martins. São Paulo: Nova Alexandria, 1996.
- Segundo Colluci e França (2020, p. 213), destacam-se os operadores de leitura dessa maquinaria: “a) a personagem (vilanesco), b) o espaço (locus horribilis), c) o tempo (passado) e d) o medo (sobrenatural).”
- O tempo, como dispositivo da maquinaria gótica e como datação, não aparece no Capítulo I. De fato, essa informação de maneira clara existe apenas no Prefácio da Primeira Edição, e só pode ser considerada se forem admitidos os prefácios como constituinte da história, mas não da obra.
- Veja esses elementos como livres de ordenação e encapsuláveis, como uma matriosca, se preferir, e cujo funcionamento é tal qual como o da maquinaria gótica.
- Cf. ARISTÓTELES, 2011, p. 41.
- Ibid., p. 49.